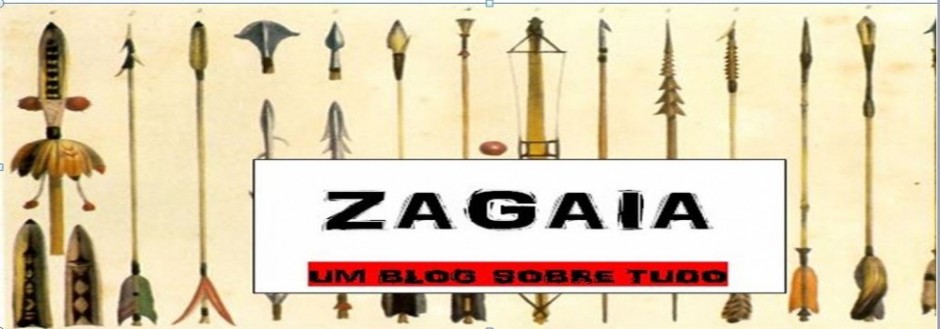O mote da canção do Chico Buarque é o título de um belo e interessante documentário de Marcelo Gomes.
O diretor começa o filme lembrando que, quando criança, foi a Toritama, cidade do agreste pernambucano, acompanhando o pai, fiscal de rendas na época. Uma cidadezinha quieta, sonolenta, centro de um povoado de criadores de gado caprino. O município está na margem esquerda do Capibaribe e faz divisa com Caruaru.
Quando o do documentarista volta à cidade, quarenta anos depois, o cenário é completamente diferente. A cidade se tornou a “capital do jeans” – os outdoors na abertura do filme são fantásticos, todos fotografados com cara de sul-maravilha – e produz cerca de 20% desse produto. São aproximadamente 20 milhões de jeans por ano.
Informa o diretor-narrador que praticamente tudo é produzido nas “facções” (os linguistas que expliquem essa modificação do verbo confeccionar), fabriquetas de fundo de cozinha-garagem-sala dos moradores locais que, além do mais, são donos das máquinas de cortar e costurar. Ao que parece algumas máquinas maiores, com as de estampagem “a laser” prestam serviços para outras. Entretanto o que se vê e escuta no filme é o incessante barulho das máquinas de costura e das cortadoras de pano. A cidade trabalha todos os dias, o ano inteiro. Só para na semana do carnaval quando a maioria dos moradores vai para alguma praia. Os domingos são para levar a produção para a feira, onde tudo aquilo se escoa.

Algumas cenas logo no início do filme mostram pessoas transportando montanhas de jeans em motos, bicicletas ou carrinhos de mão. Ao ver aquilo, minha sensação era de que a tela mostrava uma quase obscenidade. Como era possível transportar tamanha carga de pano em motos e bicicletas (os carrinhos ainda eram mais lotados)? Tudo jogado depois nos galpões, misturados com gatos e galinhas domésticos e meninos brincando no meio da confusão.
O documentário mostrava parte do cotidiano de Toritama.

Os entrevistados do filme – homens, mulheres, jovens e velhos – quase unanimemente declaram que “gostam” do que fazem. Sobretudo, enfatizam que “controlam seu tempo de trabalho”: quanto mais trabalham mais ganham.
O controle do tempo de trabalho começa como uma ilusão típica de uma economia camponesa, autônoma, na qual apenas a natureza pode impor ritmos, e que leva à ilusão de uma autonomia plena. Mas não é só isso, como veremos.
Esse “controle do tempo” em Toritama resulta em jornadas de até dezoito horas de trabalho, incluindo o domingo na feira, para um rendimento aproximado de R$ 2.000,00, segundo a conta e demonstração de uma entrevistada, que ganhava dez centavos por cada peça que produzia. A “satisfação” expressada pelos entrevistados se resumia nessa possibilidade de trabalhar mais e ganhar mais.
Apenas dois dos entrevistados do filme contestam isso. Um vaqueiro, visto levando seu rebanho de cabras e bodes em busca de pasto. Ele levanta um pano vermelho quando vai atravessar a rodovia, ”onde de vez em quando perde um dos animais”. Este se declara camponês, gostar do que faz e não querer saber dessa história de “ganhar mais dinheiro como esse pessoal das facções que só pensa em ganhar”. Outro, que parece ser trabalhador assalariado, com carteira assinada, reflete que o emprego lhe permite “pensar no futuro” e se aposentar, embora ganhe menos que nas facções.

Um segmento interessante foi quando se entrevistou o dono de uma loja da cidade, especializada em compra e venda de usados. Nos dias que antecedem ao carnaval aparece de tudo na loja: geladeiras, liquidificadores, televisões e também algumas dessas máquinas de trabalho (máquinas e costura e de corte). Segundo o dono, aquilo tudo é vendido pelo pessoal da cidade para ter dinheiro para ir para a praia durante o carnaval. Na volta, diz ele, as mesmas pessoas, em grande medida, “recompram” a prestações quilo que venderam antes. Na verdade, a loja é um sistema de penhor e microcrédito.
A comercialização das peças não é aprofundada no filme, apenas com a menção de que na feira é preciso “descarregar tudo”. Não se informa se há encomendas, como é adquirida a matéria-prima, etc. A feira, aliás, é impressionante. Nada a ver com as feiras tradicionais já estudadas por antropólogos.
Em outras palavras, o filme coloca e documenta somente o lado da produção. Ou seja, o trabalho. Que é remunerado por peças, e o documentário não adentra nas etapas prévias da produção (aquisição de matéria-prima, máquinas e equipamentos) e da circulação dos jeans produzidos (presença de atacadistas, encomendas prévias, etc.). Não entra na domesticidade dos moradores da cidade, de suas casas só aparece a face “pública”, voltada ao trabalho, ainda que com a intrusão de galinhas e meninos ranhentos circulando. Menciono isso lembrando que não se trata de um documentário sociológico ou econômico. O documentário está focado naquele momento de trabalho insano dos toritamenses, o que não diminui em nada a beleza do filme.

Mas foram os aspectos sociais, políticos e econômicos do que é documentado, e que se pode inferir do filme, o que mais chamou minha atenção.
Ainda que os trabalhadores declarem que, em sua maioria, são os donos das máquinas em que trabalham (adquiridas com economias e poupanças de outras formas de trabalho, ou talvez a crédito, na compra de usados), o que se vê na realidade é salário por peças. Eles são donos das máquinas de partes do processo produtivo, mas o dono das facções é quem recebe a produção e paga os salários.
No primeiro volume d’O Capital, Marx trata do salário por peças, comparando-o ao salário por tempo de trabalho.
“Como a qualidade e a intensidade do trabalho são controladas aqui pela própria forma do salário, [por peças] esta torna grande parte da supervisão do trabalho supérflua. Ela constitui, por isso, a base tanto do moderno trabalho domiciliar anteriormente descrito como de um sistema hierarquicamente organizado de exploração e opressão. […] O salário por peças facilita (…) a interposição de parasitas entre o capitalista e o trabalhador assalariado” (Citações extraídas da edição brasileira do livro, da coleção Pensadores, Ed. Abril, tradução de Régis Barbosa e Flávio R. Kothe), p. 141).
E mais adiante, ainda na mesma página: “Dado o salário por peça, é naturalmente do interesse pessoal do trabalhador aplicar sua força do trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista elevar o grau normal de intensidade. Do mesmo modo, é interesse pessoal do trabalhador prolongar a jornada de trabalho, pois com isso sobe seu salário diário ou semanal” (pag. 141).
O prolongamento da jornada de trabalho é mitificada e oculta pela ilusão de que cada um daqueles trabalhadores é dono do seu meio de produção, as máquinas. Na verdade, cada um deles é peça de um processo muito mais amplo no qual o cortador ganha uma parte alíquota do valor total da peça, assim como, sucessivamente, a costureira, o que faz zíper ou caseado, etc. Mas se mostram felizes “por ter trabalho”. E uma comenta: “Olhe só aqueles pobres da África. Toritama é o paraíso”.

O salário de cada um daqueles trabalhadores está, de fato, condicionado a fatores econômicos e sociais muito mais amplo que a sua parcela de trabalho. No entanto, é real o fato de que “quanto mais trabalha, mais ganha”.
Essa questão da aparência – outro nome que se dá à ideologia – aparece com mais vigor no Volume III d’O Capital, infelizmente pouco lido e menos ainda compreendido. Maria José Silveira, a partir de um curso/seminário no mestrado de Ciências Políticas na USP, cujo tema foi a leitura do Livro 3 de “O Capital”, de Karl Marx, coordenado pelo Prof. José de Souza Martins, produziu um trabalho intitulado “A Produção da Ideias”, no qual mostra como Marx trabalha essa questão. Nas conclusões, a autora assinala que “como a produção das ideias é um processo que, ao se manifestar e desdobrar, dissimula enquanto revela, a grande questão na análise do processo ideológico é justamente perceber quais são os momentos da produção desse processo: só assim será possível reconstruir a totalidade no pensamento, colocando em seus devidos lugares a aparência e a essência, descobrindo o invisível por de trás do visível. Só assim será possível explicar não apenas o que estava escondido, mas também o que era aparente, agora já não mais confundido com o todo, mas entendido em sua verdadeira dimensão”.
A ilusão de que o trabalhador de Toritama é “dono de seu tempo” esconde, assim, uma realidade muito mais complexa, que não é objeto do documentário, é claro, nem tira dele sua beleza e sua força. É uma “ilusão verdadeira” que oculta o todo.
No entanto existem conclusões de ordem política e ideológica que precisam ser compreendidas.
No processo de discussão sobre a reforma da Previdência, por exemplo, foram claramente enfatizadas as perdas que os trabalhadores terão com sua aprovação.
Para os trabalhadores de Toritama, entretanto, isso não deve surtir nenhum efeito, pois sua ilusão desvincula totalmente seu trabalho da questão dos direitos sociais e trabalhistas. “Quanto mais trabalho, mais ganho” é uma verdade, portanto. E que continuará sendo crença para aqueles trabalhadores até que alguma crise, geral ou específica da indústria de confecções, obrigue-os a trabalhar muito mais para receber cada vez menos.
O documentário mostra como a “uberização” já ultrapassou em muito a área dos serviços e está entrando em cheio na produção industrial, exatamente pelos segmentos que usam mais mão-de-obra e menos equipamentos, ou seja, capital fixo.
Esse processo não vai parar. Os profissionais, sabemos, há muito prestam serviços como “PJs”, abdicando (ou sendo forçados) dos direitos sociais e trabalhistas com o pretexto de uma remuneração maior. “Pejotização é o nome classe média para “uberização”
Os “donos do tempo” de Toritama estão na mesma posição que os motoqueiros (também donos de seu instrumento de trabalho) que cada vez mais se matam correndo de um lado para o outro nas grandes cidades, assim como todos os que prestam serviços como “PJs”.
As consequências políticas disso tudo estão aí, inclusive na desmobilização dos trabalhadores na luta por seus direitos.
Tudo isso enquanto esperam o carnaval chegar.