Em final de novembro do ano passado faleceu um de meus amigos mais antigos, que conheci em Brasília em 1966, Alvaro Lins Cavalcante Filho. Era meu vizinho de quadra e, para deixar logo algumas coisas claras, também filho de um deputado federal, como eu. Ele estudava no CIEM, o Centro Integrado de Ensino Médio, escola de aplicação da UnB, e eu no Elefante Branco, ambos colégios públicos da Capital. Álvaro queria ser físico; eu, antropólogo.
Ele nunca conseguiu ser físico, embora eu tenha, no final das contas, terminado o curso de Antropologia, já não na UnB, mas na Universidad de San Marcos, em Lima, no Peru. Naquelas alturas Alvrinho, como era conhecido por todos seus amigos de Brasília, já trabalhava como ferramenteiro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
O que nos reuniu, entretanto, não foi o fato de sermos vizinhos, nem filhos de políticos. Foi a militância no movimento estudantil. E nos encontramos não por sermos vizinhos, e sim apresentados por um amigo comum, Haroldo Saboia, que conhecia o Antonio Neiva Moreira Filho, maranhense como ele, e colega de classe do Álvaro. Foi uma amizade que durou entre os quatro, até a morte, primeiro do Neiva, há dois anos, e depois do Álvaro.
Eu vinha de Manaus, onde já militara no PCB, participando das discussões do VI Congresso e muito desgostoso com as atitudes e políticas do partidão, desde o golpe de 64. Naquela altura, através de outro amigo, o Márcio Souza, já conhecia as discussões de uma dissidência do PCdoB, que viria a ser a Ala Vermelha, e estava vinculado com a organização.
As conversas entre os quatro amigos conhecidos em Brasília resultaram no ingresso deles na AV do PCdoB, e nessa condição militávamos no movimento estudantil em Brasília.
De todos nós, os Álvaro sempre foi o mais expansivo, e com maior presença pública no ME. Aconteceu que, depois que ingressamos na UnB, em 1967, o Haroldo me apresentou ao Evandro Carlos de Andrade, então diretor da sucursal do Estadão em Brasília, onde comecei a trabalhar como repórter setorista.
Era curioso. De manhã assistíamos aulas, participávamos de discussões políticas, entre nós e com companheiros que já sabíamos (ou pelo menos desconfiávamos) que fossem militantes de outras organizações. Interessante notar que, em grande medida por conta da grande capacidade de liderança do Honestino Guimarães, então presidente do diretório acadêmico, a construção de unidade no ME em Brasília foi, me parece, bem mais fácil que em outras cidades.
Às vezes de manhã, às vezes de tarde, principalmente no final da tarde, o ano de 1968 foi movimentadíssimo com as manifestações que ocorreram, como a passeata dos Cem Mil no Rio, as passeatas em S. Paulo, Goiânia, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e muitas outras cidades. O país vivia um clima de agitação e a resistência ao golpe se fazia cada vez mais evidente.
À tarde, eu trabalhava no jornal e, acreditem, era “setorista” no Itamaraty e nos três ministérios militares. Maria José Silveira, com quem comecei a namorar nessa época, era “setorista” do JB, sob a batuta do Carlos Castello Branco, também cobria os três ministérios militares, e já trabalhou ficcionalmente isso em romances e contos. Era, de certa forma, surrealista. Conversando com os militares, que evidentemente aproveitavam para mandar os mais variados recados através dos jornalistas, antes ou depois de participar de passeatas, reuniões clandestinas, assembleias e agitações na UnB, voltar para as redações, escrever o que conseguíamos apurar – e que era fruto de muita atenção por parte dos respectivos chefes de sucursais… Depois de tudo isso, eventualmente um chope, ou sessões de cinema, inclusive no Clube de Cinema da UnB, que funcionava no auditório da Escola Parque, onde vimos muitos e muitos clássicos (o romance “O Fantasma de Luis Buñuel”, da Maria José, descreve bem esse cenário no primeiro capítulo do livro).
Mas, para encurtar. Não quero falar aqui da militância em Brasília, e sim do que aconteceu depois. Dá-se voltas, e a militância me levou à prisão e ao exílio, e só voltei a encontrar Álvaro em 1977, quando voltamos para o Brasil (eu e Maria José), e fomos morar no Rio de Janeiro. Retomados os contatos com a Ala Vermelha, uma surpresa. O Álvaro estava na Baixada Fluminense, com identidade falsa, trabalhando como ferramenteiro em uma grande empresa, e já havia recrutados vários operários. Neiva, conhecido como Sossonho, também estava no Rio, envolvido com as articulações e setores profissionais (era economista).

A identidade funcional do Álvaro na TRW, com nome falso.
De fato, era a aplicação do chamado Documento dos 16 Pontos, de 1969, no qual a AV iniciava um profundo processo de autocrítica das concepções militaristas. Dizia o documento:
“Ao invés de nos preocuparmos em modificar nossa fisionomia política, ligando-nos às massas, combatendo a burocracia, formando quadros politica e ideologicamentre capacitados, profundamente enraizados na massa, capazes de enfrentar as vastas e complexas tarefas que a revolução brasileira nos impõe, simplificamos tudo, adotando uma posição que se revelou objetivamente oportunista, pois fora das possibilidades de realização prática, que se desligava ainda mais das massas básicas, dos problemas por elas enfrentado. Demos uma solução altamente simplista: ‘os melhores quadros do Partido iriam para o foco’. Que partido? Que quadros? Quadros de origem pequeno-burguesa, parcos de conhecimento científico, formados em sua maioria fora do trabalho político entre as massas”.
De fato, ainda que de modo acidentado desde 1971, a AV havia reorientado o trabalho de seus militantes para frentes de massa. Houve os que ingressaram em fábricas e a partir dali tiveram atuação sindical; os que desenvolveram trabalho em favelas e conjuntos populares. Os jornalistas e outros profissionais, os quadros de origem pequeno-burguesa, passaram a fazer o que sabiam: montar frentes para construção de jornais que apoiassem o trabalho sindical e o trabalho nos bairros, ou de apoio operacional e logístico para esses trabalhos.
Álvaro fazia um trabalho muito interessante na Baixada Fluminense. Por um lado, na fábrica e nas articulações sindicais. Já havia recrutado um grupo expressivo de operários, alguns de grandes empresas da área. Chegou a organizar um encontro de sindicalistas que trabalhavam na Brown-Bovery no Rio e em S. Paulo. Por outro lado, morando na Vila Kennedy com Vilma Costa, cearense com quem havia casado e com quem já tinha três filhos. O casal desenvolvia também um trabalho de bairro, organizando os moradores em torno dos problemas locais: transporte, escola, custo de vida, etc.
Trabalhando juntos com o Alvrinho, desenvolvemos dois projetos significativos. O primeiro foi o CECUT – Centro Cultural dos Trabalhadores. Era um local de integração entre trabalho operário e trabalho de bairro, com palestras, reuniões, festas e outras atividades relacionadas com as duas frentes.

Antonio Neiva, o Sossonho.
O segundo foi a articulação, com pessoas vinculadas à Igreja Católica, do “Jornal da Baixada”. A publicação, que tirou seis números, procurava reforçar essa ligação entre o trabalho operário e sindical. Sossonho, nessas alturas, além de organizar grupos de apoio entre economistas e outros profissionais, já estava envolvido na construção do PT.
Esses vários tipos de trabalho, que se repetiam às centenas por todo o país, foi construindo paulatinamente um movimento de repúdio à ditadura, com crescentes mobilizações.
É bom lembrar que, em 1974, praticamente todas as organizações de esquerda defenderam o voto nulo nas eleições. O resultado foi uma vitória acachapante da Arena (“O maior partido político do Ocidente”, nas palavras do Francelino Pereira). Em 1977, sentindo o cheiro da derrota nas eleições gerais do ano seguinte, Geisel editou o chamado “Pacote de Abril”, com a instituição dos senadores “biônicos”, das sublegendas e de outras medidas que dificultaram o desempenho da oposição. Ainda assim, no ano seguinte, apesar do governo ainda manter maioria no Congresso, o avanço das oposições foi substancial.
Isso foi decorrente de um processo duplo de acúmulo de forças. Por um lado, do ponto de vista institucional, os “autênticos” do MDB (depois PMDB) aumentavam sua importância. Por outro lado, esse trabalho nas bases foi criando pressão, obrigando a ditadura a admitir a reforma partidária (a criação do PDT e do PT, que elegeram seus primeiros parlamentares em 1982), e a eleição direta para governadores. Apesar das grandes restrições, o aumento da oposição era cada vez mais importante, e 1982 foi um momento de virada no processo que terminaria com o final (negociado) da Ditadura.
Cito aqui esses fatos, sem querer entrar em maiores detalhes, por uma simples razão.
Depois da derrocada das tentativas de luta armada, o desenvolvimento desses trabalhos de base – a partir dos remanescentes das organizações que haviam feito autocrítica da chamada luta armada, entre as quais a Ala Vermelha – passou a ser um constituinte das movimentações políticas no país.
As greves sindicais, especialmente as do ABC paulista, a partir de 1978, as greves dos canavieiros da Zona da Mata de Pernambuco (da qual participei ativamente), os movimentos contra o custo de vida, pela moradia e tantos outros tiveram seu papel. Em São Paulo, o “ABCD Jornal”, também uma iniciativa de frente de jornalistas dirigida pela Ala Vermelha, teve um papel fundamental na condução das greves depois da intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de S. Bernardo e da prisão do Lula. E o mesmo se repetiu em outras cidades, com menor repercussão.
A história das mobilizações e trabalhos desenvolvidos por esse número crescente de militantes – oriundos, como assinalei, tanto das organizações de esquerda como das chamadas organizações de base da Igreja Católica – foram criando esse pano de fundo que favorecia as articulações no âmbito institucional.
No entanto, na “história oficial” da derrubada da ditadura, o que recebeu grande ênfase não foi isso. As movimentações no âmbito institucional, a partir do PMDB, o “racha” da sustentação política da ditadura, com a criação (e depois volta ao PMDB) do PP de Tancredo Neves, e as greves sindicais do ABC, apresentadas como fruto espontâneo do “novo sindicalismo” é que receberam todo o foco e atenção.
O Álvaro foi um exemplo dos militantes que estavam lá na base, construindo as condições para a derrocada da ditadura. Sempre foi um tipo multifacetado, com inúmeros interesses e sempre atento a novas possibilidades de ação. O resultado disso é o grande prestígio que até hoje desfruta entre todos os que militaram com ele no Rio de Janeiro, seja no movimento sindical, seja no trabalho de bairro, ainda que sua trajetória posterior não tenha tido a linearidade que muitos esperavam.
Sossonho, por sua vez, ativíssimo nas articulações para a construção do PT, trabalhando junto com camaradas como Jorge Bittar, então presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e de sua companheira Sandra Neiva, economista do BNDE, e outros.
De qualquer modo, a recuperação desse tipo de militante e de seu papel na construção de nossa frágil democracia é importante. Até para entendermos algumas das raízes dessas fragilidades de hoje, a oscilação entre a perspectiva da luta armada e a das mobilizações dentro da legalidade institucional são trajetórias que precisam ser mais bem avaliadas, compreendidas e respeitadas.
Criou-se, nos últimos anos, um culto às vítimas da ditadura. Os companheiros assassinados e brutalizados pela repressão aparecem como os heróis da resistência, enquanto a avaliação e valorização dos militantes sobreviventes e pertinazes trabalhadores, que contribuíram para a construção do movimento operário, do movimento popular e das grandes manifestações de massa dos anos 80, ficaram obscurecidas.
A mitologia dos heróis precisa ser revisada e a nossa história política recente deve, mais que nunca, incluir essas trajetórias de militância, perseverança e trabalho árduo. Até para que não se repitam vários dos erros cometidos, como o desmantelamento de muito do que foi feito nesse esforço de construção do movimento de massas em nosso país.
E é nesse sentido que presto minhas homenagens aos camaradas Álvaro Lins e Antonio Neiva (falecido há dois anos), como dois representantes dessa massa de militantes que teve papel significativo na derrota da ditadura e retomada da democracia em nosso país.
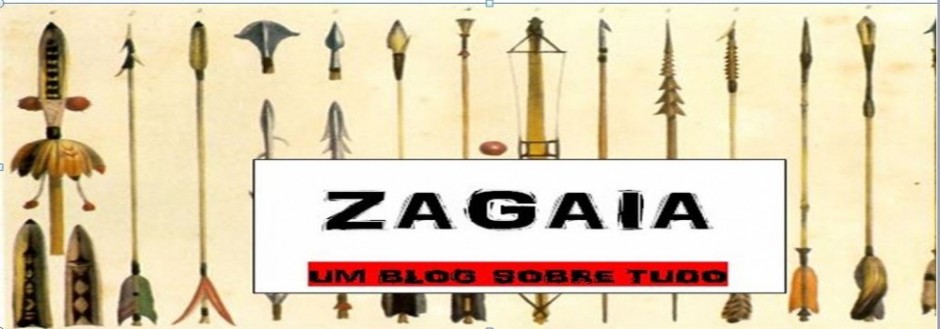
Neiva foi meu mestre e meu grande amigo. Do muito que aprendi em meus 31 anos de militância socialista devo grande parte a ele e a Vladimir Palmeira.
Como nos ensinou Walter Benjamim, nosso compromisso não são com o futuro e com as próximas gerações, mas são sobretudo com quem lutou para deixar um mundo menos indigno, sobre o qual lutamos hoje. E em respeito à memória de companheiros como Neiva que seguimos firmes na luta por um mundo mais justo e sem as misérias do capitalismo.
Como dizia, Benjamim: “Se o inimigo vencer, nem os mortos estarão a salvo”!